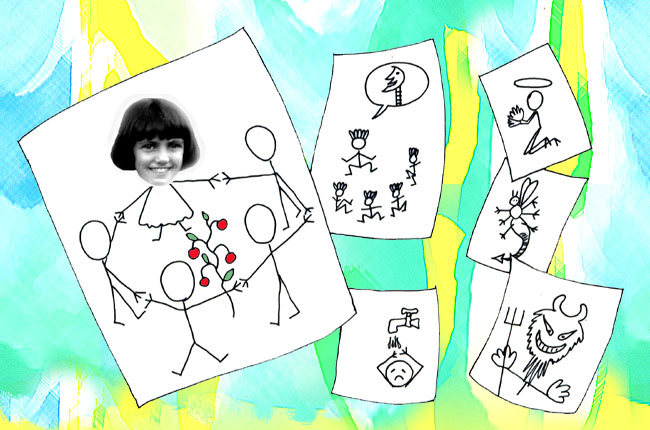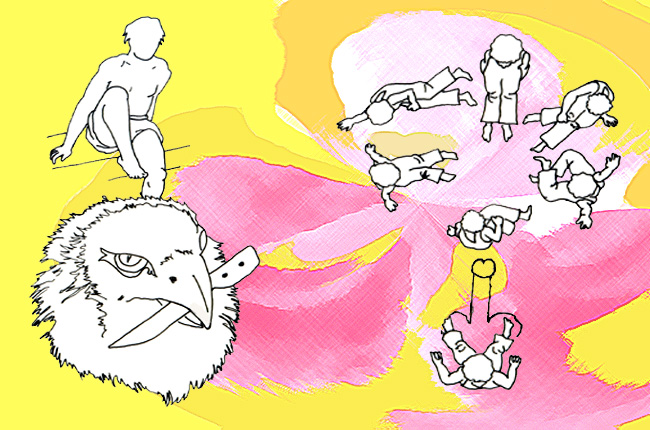20. Festas
No final do ano, outubro ou novembro, chegou ao colégio um minúsculo grupo arisco e sorridente de menininhos de cinco anos. Sempiternas divindades! Cinco anos! De que orfanato teriam sobrado? Que freira teve que separá-los, escolhendo por este ou aquele critério, aqueles que deveriam alojar-se no meio daquela coleção da zoologia humana, ratos, cães, chacais? Que mãos de dedos magros e delicados não puderam mais embalar aquelas criaturinhas, acariciar seus rostinhos redondos, alisar a espuma do sabonete nas costas e nas coxas macias daqueles pedacinhos de gente? Cinco anos!
Alguns falavam errado, ainda. Não eram muitos, tenho idéia de uns cinco ou seis, mas deviam ser mais, porque, daqui a pouco, nas festas, eles apresentarão um teatrinho com as vogais e os sinais de pontuação.
Todos adotaram aqueles pequeninos sofredores. Era como se tivessem entrado num bando de grandes irmãos. Seus brinquedos eram respeitados, seus objetos resguardados de mãos raptoras. Acabamos por acostumarmo-nos com os pequeninos.
A partir daquele momento, eu deixei de ser um dos caçulas do colégio. Apesar disso, minha posição de protegido geral nunca foi abalada. Nunca senti ciúmes dos pequenos, como sentia de Marquinhos, por exemplo, tudo continuou como antes. Seria por causa das aulas? A geografia e as tabuadas…
É estranho que estas figurinhas de porcelana se tenham marcado dentro de mim apenas por um episódio curto, mas muito significativo. No natal, eles apresentaram um teatrinho para todos. A imagem deles permaneceu assim dentro de mim, fantasiados de letras e sinais de pontuação.
Fomos colocados em forma, cobrir, marcar passos, descansar… As professoras chegaram nervosas, alguém deu o sinal, começou o teatrinho.
O pequeno bando passarinho foi entrando. Eu estava extasiado. Eles tinham pendurado sobre o peito uma folha de cartolina muito branca. O primeiro era a letra “a”, avançou e falou um versinho. Seguiram-se o “e”, o “i”, todas as vogais falaram. Depois, foi a vez dos sinais de pontuação, a vírgula, o ponto… O ponto de interrogação me marcou muito, não lembro se pelo versinho, se pelo desenho certo, a curva bem feita, ou se pela criança que o representou.
Não sei como reagiram os outros. Eu ficara simplesmente maravilhado.
Era dia de Natal. Eu já sabia que papai-noel não existia. Se alguma coisa de mais brilhante ou luminoso estava no ar, eu não percebia. Não se ouvia canções diferentes, nenhum som além dos gritos cotidianos, além da rotina da gíria e dos palavrões. A única diferença que havia, era dizerem que o dia era dia de natal. Natal era o dia em que ele nasceu, aquele que morava na igreja, estendido dentro dum caixão de vidro, com um vestido roxo, cabelos de verdade e olhos – ainda bem – fechados.
Também sabia, mais ou menos, o que era morrer. Em Manhuaçu, aconteceu a mais remota passagem de minha vida, de que tenho lembrança: participei do enterro de um gatinho, organizado pela Zélia. E o mesmo tinha acontecido com aquele homem nascido no natal. E, todos os anos ele voltava para ser crucificado com pregos que arrebentariam a mão da gente.
À tarde, o sino tocou. Agora, sim, devia ser natal. Porque o ar estava cheio de um bonito som de bronze que demorava a sumir, ia baixando devagarinho, outro martelava forte e a música monotônica continuava. Aquele sino à tarde era muito triste. Deixou de machucar o coração, quando alguém gritou que iam distribuir doce de leite.
Doce de leite!
O doce de leite era um sorriso, era um sino sem tristeza, era um olhar de mãe-viúva do outro lado da vidraça do trem, sem lágrimas. Sei lá. Era doce, era gostoso, desmanchava-se lento, era inversamente proporcional àquela gosma grossa e fétida que tomávamos para as lombrigas. Enquanto que a gosma descia para ficar instalada dentro de cada um durante dias seguidos, o doce de leite, ainda inversamente, se diluía depressa e tudo não tinha passado de um sonho enfeitiçado.
Aquele doce era uma grande mentira.
Meu coração tropeça ao escrever.
O coração do Prometeu raquítico não resiste a todas as bicadas.
Só direi que, no resto da tarde e nos confusos sonhos da noite, as luzes e os sons pareciam de um mundo fantástico, onde habitariam as irmãs, as sereias, os carros coloridos, a mãe, a vó, os sabonetes, os cobertores…
Aquela mentira durou muito pouco.
continua no próximo domingo.