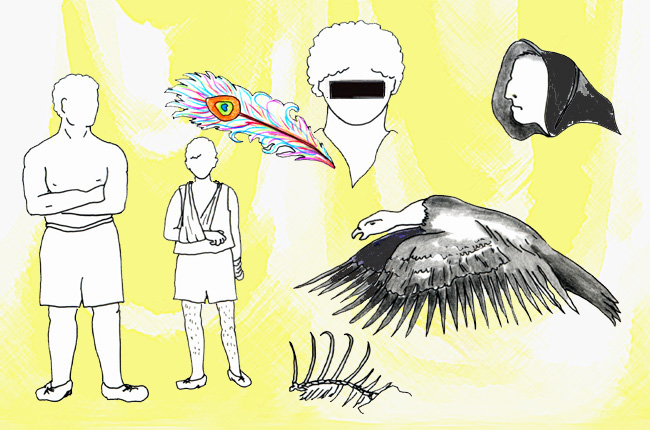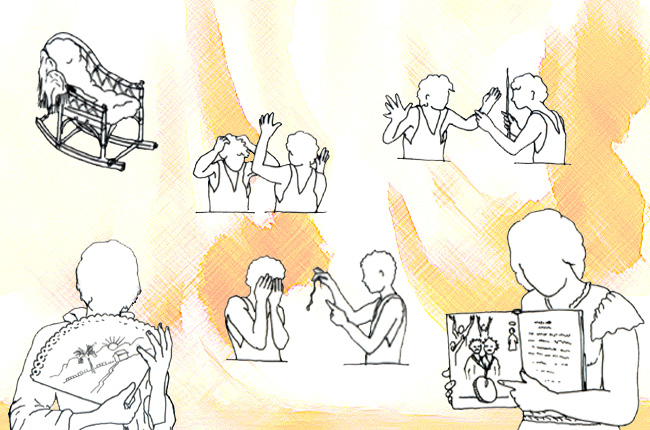13. Joaninhas, brincadeiras, diversões, raios de luz nunca apagados
Dalton Trevisan, no conto O Espião, escreve que aquelas meninas nunca sorriam. Mentira! Acho que é mentira! A alma da criança não é uma corda eternamente esticada. Há de haver, aqui e ali, longe da palmatória e logo depois da comida, momentos fugazes em que a canção suba, o sorriso brote, o brinquedo distraia.
Porque, se me lembro daqueles dias perdidos, vejo que são as garças pálidas das lembranças suaves que flutuam no azul vazio. Não as garras, não os bicos envenenados de padres e palmatórias e mijões. São os brinquedos que mais demoradamente algemam minha alma a minhas recordações. E nós sorríamos. Naquelas planícies, entre o abismo de um terror e outro, nós sorríamos. Tínhamos muitos e longos momentos de paz. E estes momentos, nessa hora de agora, se agitam dentro de mim, como areias vivas de um bosque encantado. As areias levantam-se, adquirem vida. Entre um agora e um depois, nós éramos felizes. Não há por que mentir. Eu era feliz.
Eis que eles se chegam de mansinho, meus fantasminhas brancos e definhados, pedindo para que recomeçamos os nossos folguedos. Eu mesmo, eu não tenho condições de brincar. Eles, fantasminhas, vivem dentro de mim. Mas o fantasminha que devia ser eu, aquele menino dissolvido na neblina de um tempo quase de todo esquecido, com o olhar sempre triste e o rosto sempre voltado para o chão, sinto que aquele menininho morreu para sempre. Seu pecado foi estar inteiramente acorrentado a mim, ele foi dando lugar a um homem que o destruiu. Hoje, o muito que ele consegue fazer, é me ditar, de tão longe, as coisas que ele viveu lá, como as viveu.
Os outros pararam de crescer dentro de mim. São eternamente pequenos, eternamente meninos. Se hoje eu os encontrasse, não seriam mais os meus amigos. Seriam, também, adultos que mataram meus amiguinhos. Estaríamos, os de hoje e os de ontem, separados por um muro: de um lado, aquilo que eles são agora; e do outro, os pequeninos habitantes que conheci no internato.
Este muro tem frestas. Sim, o muro tem frestas e nós, os de hoje, podemos observá-los, enquanto brincam do lado de lá. Eles não se dão conta de que nós, adultos de hoje, os estamos vigiando. Não viviam para o nosso hoje, viviam o momento deles.
Uma brincadeira que era sempre repetida a intervalos curtos era a das grutas para as joaninhas. Nalguma parte do pátio, o chão era barrento. Não sei que milagre fazia aparecer no pátio pedaços de vidro colorido. Nós os guardávamos com um cuidado tremendo. Eram valiosíssimos haveres. Quando conseguíamos um caquinho, lavávamos até a total transparência e corríamos à cata de joaninhas. Elas eram de um vermelho marronzado, redondas e pintadas de preto. Havia também algumas compridinhas, verdes e vermelhas, mas estas eram muito ariscas, fugiam fácil. Apanhada a presa, fechávamos a coitadinha numa caixa de fósforo, outro milagre. Então, se começava a confecção da gruta, um buraquinho no barro. Depois de bem alisada, colocávamos lá dentro a joaninha e cobríamos com o vidro. No fechar, o vidro se turvava mas, com cuspe, nós o deixávamos novamente brilhante.
O inseto andava de cá para lá e nós o vigiávamos naquela quase escuridão.
O curioso é que nunca encontrei a joaninha no dia seguinte. Ora a gruta aparecia sem o vidro, ora desaparecia por completo, ora estava igualzinha, mas vazia.
Também pegávamos grilos. Pretinhos, miúdos. Alguém falou certa vez que, se enterrássemos a cabeça de um grilo, daí a alguns dias ela viraria uma caveirinha. Decapitávamos o coitado, arrancando rudemente sua cabeça, com os dedos. O corpo era jogado fora e a cabecinha enterrada. Nunca, também, consegui chegar ao fim da experiência. Perdíamos a cova, esquecíamos de procurá-la, sei lá.
Às vezes, jogávamos bola. As bolas eram resultado de uma paciente manifestação de artesanato primitivo. Primeiro, arranjavam trapos de pano. Os fios vinham dos macacões. As agulhas, das tardes vazias. Depois de feito um bolinho de trapos imprestáveis, começava-se a costurar pedaços pequenos de pano mais resistente ao redor. Era uma sucessiva costura de pedacinhos de pano e a bola ia engordando. Aqui e ali, um reforço para respeitar a esfera afundada. Com pouco, ela estava inteirinha, redonda e pesada. É claro que esta tarefa sempre cabia a algum dos grandes.
Alguns deles tinham bola de tênis e uma garça, mais pálida que todas, me fala de bolas maiores, de borracha. Com efeito, eu consigo vê-los lá longe, jogando com uma bola que parece bem maior do que a nossa.
Certa feita, numa pelada, instalou-se uma tal confusão diante do gol, juntou-se tanta gente em torno da bola, que esta permaneceu quase que parada, no pequeno espaço entre dezenas de pés que se chutavam. A bola ameaçava ir para um lado, já um pé a devolvia, outro mudava a sua direção, começamos todos a rir alto, chutando a esmo, a coitada da bola numa total indecisão, pisada, chutada, até que os corpos começaram a se desequilibrar e formou-se uma pirâmide de suor e corpos aflitos a gargalhar e ninguém mais conseguia respirar…
Os deuses de Homero eram peritos em gargalhadas homéricas. Mas nunca riram aquele nosso riso.
Também, que vantagem? Bastava um qualquer pedir para entrar no meio da partida e o regulamento perdia a sua sacralidade e vinha mais um e mais outro e quantos quisessem. Havia muitas confusões daquelas, aquela foi a mais espantosa.
Também íamos ao campo de futebol da cidade. Havia torneios entre os habitantes da região. Será que alguns dos nossos participavam? O que sei eu! Eles jogavam, os alunos maiores assistiam e nós, os fantasminhas, estamos correndo atrás dos gafanhotos e dos grilos. As caixinhas voltariam abarrotadas e ao abrirmos, na volta, deparávamos com um punhado de bichinhos mortos. Mas não queríamos que eles morressem!
Num desses passeios, houve um fato que muito me marcou. Sinuca narrava o jogo, proeza que exigia alta eficiência. Ele não parava de gritar, entusiasmado, exibindo-se feliz. Todos paramos, para ouvi-lo. Então, pediu a um dos grandes para continuar. O jovem começou, as palavras não apareciam, ele gaguejava, tropeçava, Sinuca repreendeu-o, era preciso vibrar, esquentar-se, estava sem vida. E deu, a seguir, uma demonstração de narração, alta, rápida, contagiante.
Nunca me esqueci de como fiquei triste naquele momento. Tive a nítida impressão de que, para se fazer alguma coisa, era absolutamente necessário ser livre.
Os grandes tinham outro tipo de brinquedos. Jogavam com um estoque, com bolas de gude e soltavam pipas.
Para jogar com estoque, era necessário ter um, o que era uma raridade, talvez por se constituir numa arma perigosa. Alisava-se bem o chão de barro (este brinquedo acontecia sempre depois de chuva), fazia-se um desenho para cada jogador. Eram as “casas” de cada um. O primeiro atirava o estoque, que devia enfiar-se no chão e ficar de pé. Da casa até o ponto feito pela queda do estoque, traçava-se uma reta. E ele continuava. O objetivo era envolver e fechar a casa do inimigo. Errando a queda, o outro começava. Duas espirais iam sendo feitas, em torno das duas casas. Ganhava o que, tendo envolvido o inimigo, acertava na própria linha, fechando o seu território.
As bolas de gude acabavam por pertencer todas a um restrito número de craques. Estes, só queriam jogar para valer. Sempre me maravilhou a pontaria daqueles semi-deuses. Eram os “mirolhas”. Eu, além de não saber pegar na bola, nunca acertava. Eu era “dedeiro”. Não me lembro de todas as regras. Um dos jogos tinha um arco com as bolas a serem acertadas. Um outro, tinha três buracos, era preciso entrar em cada um, depois de acertar alguém. Búlica. Um último tinha apenas um pequeno buraco no chão, não lembro absolutamente de regras. O nome desse último era “cuzinho”.
As pipas eram um privilégio de poucos. Santos eternos! De onde vinham aquelas linhas, aqueles papéis, aquelas varetas, aquelas giletes, aquela cola? O privilegiado ficava horas trabalhando com as varetas de bambu. Depois, fazia a armação. Uns, mais sofisticados, se davam ao luxo de usar duas cores. Montada a pipa, que eu teimava em chamar de papagaio, esticavam fios de linha ao longo do pátio e começavam a moer vidro. O vidro moído era misturado à cola e passavam tudo ao longo do fio. O objetivo era, num cruzamento entre pipas, cortar a linha do inimigo, para que a pipa desaparecesse do céu. A cauda era feita com tiras de trapos. Uma gilete era amarrada na cauda da pipa e isto a tornava, ao mesmo tempo, muito perigosa e muito vulnerável. Ela, mais facilmente cortaria a linha do inimigo. Por outro lado, exigia uma perícia maior, porque poderia cortar a própria linha.
O levantamento da pipa era um ritual. Se houvesse pipa no alto e, principalmente, se ela fosse de algum menino “de fora”, era uma verdadeira festa. O nosso herói soltava a linha aos poucos, tinha incrível destreza para enrolar o fio num pedaço de pau, dava braçadas, dava de bico, dava mais linha…
Pairava, contra o azul muito azul, um pedacinho de papel colorido. Flutuava majestoso como um anjo atento sobre a população de Sodoma. Vigiava. Era bonito demais.
Nenhum padre seria suficiente para diminuir aquela alegria.
continua no próximo domingo.