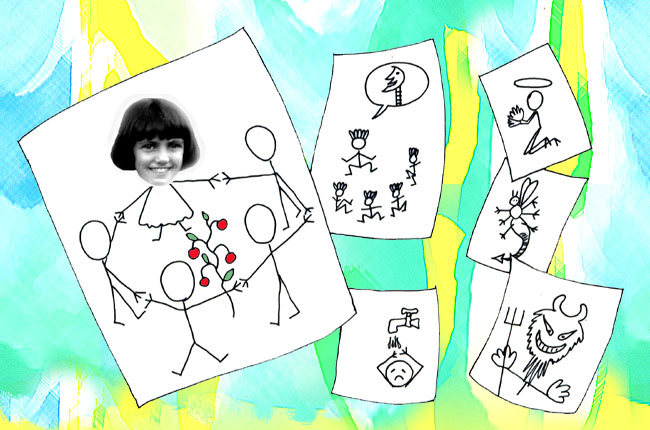21. Escuridão e diarréia
Não tivesse nascido aquele deus e muita coisa desagradável não teria acontecido.
Acordei durante a noite com terrível dor de barriga. O sonho se transformava em pesadelo. Sabia que, se me levantasse, não encontraria novamente a cama. Não sei por que, estava novamente no dormitório dos pequenos. Tentei resistir às cólicas, segurar as águas que queriam escorrer com pressão de muitos vapores, não havia jeito. Levantei-me e comecei a cabecear paredes e camas, como um touro de olhos vazados. No desespero, a vontade diminuiu e alguém me devolveu ao leito. Não entendia como eles conseguiam se movimentar naquela escuridão. Não entendia também que a escuridão só existia ante meus olhos.
O sono ia e vinha, confusão, rumores, vozes e passos surdos. A cólica desapareceu e eu desapareci após ela. Acordei com muitas luzes e muitas vozes. Havia algo estranho comigo. Não entendia direito. Ao sentir o cheiro forte e horrível, foi que compreendi. Sentei-me na cama, encolhido e trêmulo e, ao sentar-me, senti que alguma coisa mole se espalhava pegajosa debaixo de mim. Todos conversavam muito alto, era um tumulto só.
Moisés, o negro simpático que mencionai nalgum capítulo anterior, brigava com um dos menores:
Você vai ver só, seu cagão duma figa. Vai ter que lavar o macacão e levar cacetada com a palmatória. É tudo uma cambada de cagão. Tive que acordar de madrugada, por causa do fedor!
Me encolhi ainda mais. Quis me deitar, desejei que o dia virasse pelo avesso e voltasse a noite e de novo o dia de ontem e eu não comeria aquele doce que fez uma revolução estúpida no meu organismo desacostumado. Aquele doce foi uma pena muito grande, imposta à força a um crente que não entendia nada de natal nem de divindade.
Seus cagões! Está todo mundo que é merda pura!
O pequenino: eu não caguei na cama…
E ainda é mentiroso! Vira de bunda! Vira de bunda!
O coitado se torceu desesperado, escondendo-se mais. Os privilegiados, que conseguiram passar pela terrível prova de comer um doce sem se borrar, os privilegiados foram se aproximando e fecharam um círculo.
Olhem só o fedor! E fica aí dizendo que não cagou nas calças! E este cheiro, e este cheiro?
Eu comecei a ficar apavorado. Sabia que, depois, alguma coisa aconteceria. Mas não interessava o depois. Interessava aquele terrível agora. A nova prova se resumia em confessar o crime àqueles farejadores de vítimas. Vigiava as zangas e as zombarias de todos, ao redor do infeliz agonizante, torto, olhos esbugalhados pelo medo. Eu carecia de coragem, se falasse a todos, se contasse que eu também estava com aquele cheiro, tudo ficaria mais fácil. O cheiro do doce do nascimento do deus.
O pequeno negava e todos insistiam. Havia já um grupo mais longe, todos peladinhos, com os macacões nas mãos, as pernas imundas da bosta que escorrera e secara. Acho que os chuveiros eram todos em baixo.
Minha voz sumida, meu suspiro, meu respirar choroso, chamou Moisés. Ele se aproximou de minha cama e se fez atento. Acho que compreendeu rápido, mas não falou nada.
Em toda a minha vida, não tenho lembrança de outra vez em que tenha sido tão humilde, tão amedrontado, para falar. A situação se marcou muito fundo na minha memória, um abutre nítido, não há neblina, um abutre ferido que sobrevoa um pântano, minha voz cheia de espanto e temor:
Eu também fiz cocô na cama.
Não sei se ouviram, de tão baixo que eu falara. O fato é que, segundos depois, já o círculo se transferira para o meu redor. O negro era grande, devia ter uns treze anos, acho, todos os outros, menores, entre sete e oito anos. Ficaram esperando a reação de Moisés, para desferir a zombaria impiedosa em cima do novo cagão. E ele foi rápido:
Assim que eu gosto! Cagou nas calças, avisa que cagou, diz que cagou! Pra que mentir?, porra! Que nem esse merda aqui, que se borrou inteiro e fica aí negando.
Voltou-se para o infeliz e todos o seguiram, me deixando entregue à minha perplexidade.
Não me lembro de quais foram os resultados da aventura desagradável. Muitos tiveram a mesma dor de barriga e, com seus seis-sete-oito anos, também não puderam impedir que o doce do Senhor virasse podridão e escorresse liquefeito durante o sono agitado. O dormitório estava um cheiro incrível. Alguém mandou que descessem todos e ficassem lá os cagões.
A cena seguinte, de que me lembro, foi termos que passar lentamente, nus e imundos, segurando os macacões nas mãos, diante de todo o colégio formado. Deveríamos ir ao chuveiro e, depois, lavar os macacões. Eu pretendia me esconder atrás de alguém, todos pretendiam se esconder atrás de um outro. Mas a fila era implacável. Caminhava com doloroso vagar, como se fosse gota após gota, nunca mais se acabava…
Tenho a impressão de que não riram de nós. É suposição minha, atual. Talvez baseado nalgum comportamento em oportunidade semelhante, talvez através de alguma reminiscência apagada e confusa. Eles deviam perceber que tinham escapado por pura sorte. A cegueira noturna, a cólica, o controle dos esfíncteres, que sabiam eles a respeito? Não. Bastava que se lembrassem da noite para perceber que tinham sido agraciados. Não deve ter havido um intestino que não tenha esconjurado aquele doce sagrado, perturbador da monotonia e da paz do arroz com feijão. Aquela deliciosa hóstia de Satanás.
Se não sentiram cólica, ainda assim acredito que não tivessem coragem para zombaria. Éramos todos dominados pelo mesmo medo, nós, o alvo da possível zombaria, e eles, os eventuais zombadores. Sabíamos todos que ali, com nossos dois inspetores, ninguém tinha vida própria.
continua no próximo domingo.