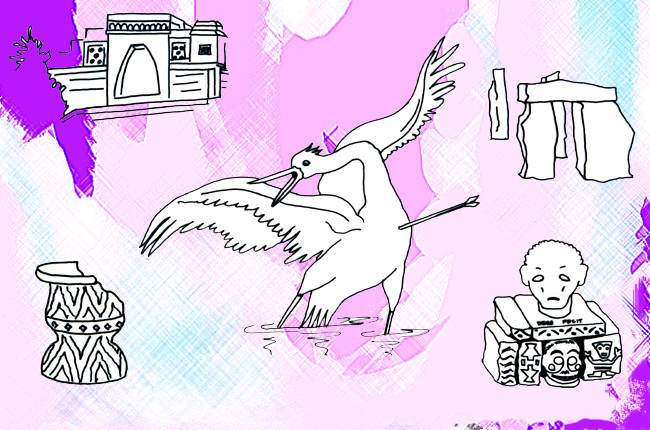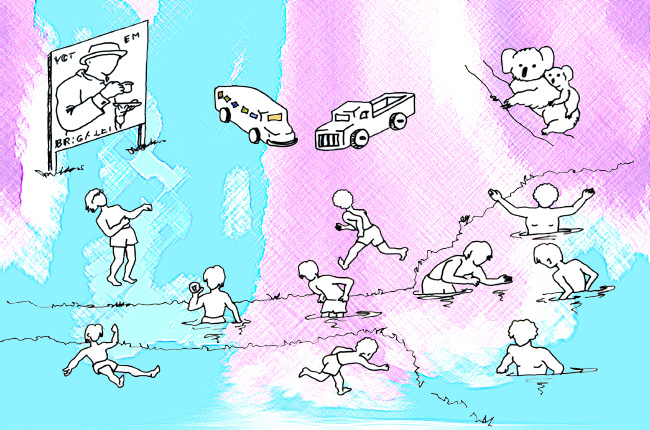15. Jorge de Souza Félix
É muito estranho lembrar.
Surgiram, no começo dessa minha tentativa de penetrar nos labirintos de minha memória, as imagens de garças e de abutres. Garças seriam pálidas lembranças de fatos agradáveis; abutres, qualquer cena mais assustadora. Nalguns momentos parece que eles se misturam.
Lembrar também pode ser como a imagem de uma paisagem cheia de ruínas. Aqui, um muro totalmente isolado, mas há nele afrescos muito coloridos de uma cena inteira, nítida e cheia de significado. Além, uma estátua decapitada, seria esta criatura uma boa divindade ou uma fúria terrível? Uma coluna solitária me fala de algum aprendizado. Uma coluna despedaçada no chão sugere algum motivo de vergonha.
Sei bem que houve um momento de minha vida em que todos estes detalhes arquitetônicos faziam parte de um todo coerente. Eram o meu tempo presente. Ali dentro, eu respirava meus medos e minhas esperanças. Ali dentro, meu coração ia aprendendo aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, sobre o grande espanto que significa viver.
Anos e anos mais tarde, a gente só consegue lembrar que alguma coisa existiu, muito mais à semelhança de uma grande mentira. E, ao tentar refazer o passeio ao passado, descobrimos que aquela cidade está morta.
Meus passos se dirigem a um pequeno templo. Sei que vou encontrar algo terrível. Vejo murais destruídos, mostrando garras. Há cacos espalhados de uma escultura, mostrando olhos cheios de dor. Está quebrada a bacia onde deveria haver uma água abençoada; não posso ver, pois, o reflexo de meu rosto melancólico. É um templo pagão. Prefiro que seja um templo pagão.
Algum tempo depois que cheguei, apresentou-se nova turma. Foram colocados diante de todos nós e seus nomes foram lidos, para conhecimento geral. Num momento, eu estremeci. Meu nome fora gritado, meu nome tinha sido gritado na confusão. Era esquisito tudo aquilo, acerquei-me depois do Geraldo, cheio de espanto, e comuniquei meu medo. Ele falou com o Antonio. Não era Teles. Era Félis. Jorge de Souza Félis. Deveria ser Félix, teriam lido errado.
Curiosamente, ele também chegara acompanhado de um irmão mais velho. Geraldo procurou os dois. Não me lembro do outro nome. Ambos pardos, quase mulatos. Meu xará aproximou-se. Tinha os olhos fundos, a pele seca, manchada de branco, as orelhas enormes. Parecia a caveirinha de um macaco. Esquelético, subnutrido. Uma das mãos, viradas para trás, a paralisia o deformara. Também um pé virado para trás, o aleijadinho se torcia todo para andar, desequilibrado e bambo.
Que lástima! Que sofrimentos ele não deve ter padecido! Eu não consigo conciliar o ato da criação com aquele resultado. Qualquer deus haveria de se envergonhar com tanta crueldade. Pensar num acaso indiferente, numa natureza desapaixonada, num destino imprevisível… continuo achando uma crueldade.
O menino aos poucos foi se aproximando de meu grupo. Foi aceito, misturou-se, mas já os meus amigos se afastaram discretamente. Mas eu quase tenho certeza de que ninguém zombou dele.
Não sei por que motivo, nalgum dia, percebi que brincávamos juntos. Isolado de todos, segregado, não sei se exilado por pressão dos outros, por medo ou por decisão própria, o aleijadinho se agarrou à única tábua de salvação que encontrara: alguém com o nome quase igual ao dele. Era como se eu estivesse condenado a aceitá-lo, pelo fato de me chamar como me chamava.
Desconheço nossas primitivas brincadeiras. O que se marcou profundamente em mim, foi o susto ao perceber que as nossas relações não estavam iguais às dos outros. Eu mandava, ele obedecia. Ele perguntava o que fazer, humilde. Eu ordenava, zangado. Ele me olhava com os olhos cheios de horror e tenho a impressão de que eu batia nele. Não tenho certeza. Era um pequeno escravo, submisso, morbidamente dócil, desesperadamente obediente. Me afligia muito o fato dele não reagir, dele aceitar minhas injúrias, dele continuar farejando a minha companhia. Redobrei as maldades, rasgava suas figurinhas, destruía seus brinquedos.
Ele voltava como um cãozinho desagradável, olhando-me com aqueles olhos que só vi de novo nos documentos dos campos de concentração nazistas. Com certeza, eu exagero. Meu arrependimento cheio de terror deve estar, agora, acrescentando pinceladas expressionistas a esse farrapo de memória.
Não sei o que mais me afligia: se o fato dele ser aleijado, não me deixando a oportunidade de abandoná-lo; se o crescente remorso que minhas atitudes passaram a criar em mim.
Voltava a ele disposto a acabar com tudo, batia nele, ele ficava um pouco longe, de cabeça baixa e eu mesmo resolvia conversar com ele, cheio de pena. Não admitia, porém, nenhum deslize, ralhava, xingava, me sentia o dono dele.
Não me lembro de como tudo terminou. Acho que os outros voltaram e ele se foi de mansinho, não me lembro. Não o vejo mais brincando comigo, depois daquela fase escura. Talvez tenha se juntado a um grupo mais infeliz, o dos mijões, quem sabe?, sendo recebido como um igual. Que, ali, a felicidade tinha chegado ao limite mínimo. Naquele zero, não faria diferença um aleijão a mais ou a menos.
A última lembrança dessa infeliz criatura surge em mim como se eu estivesse a ver um pássaro ensangüentado sobre um mosaico cheio de fuligem.
Na véspera de minha partida, um dia, até então, como outro qualquer, fomos todos reunidos para a leitura dos nomes daqueles que seriam “desligados” do colégio. Geraldo foi chamado. Ao soar o seguinte, não entendi direito, tinha certeza de que leram Félix. Começaram a me empurrar para fora da fila, não sou eu, é ele, ele saiu desajeitado, puxaram-no, empurraram-no, voltei ao meu lugar, Geraldo me tirou da forma e ele parou sozinho, bambo, me olhando com seus olhos enormes no fundo dos buracos.
Não me lembro do resto.
Não… não me lembro do resto…
Acho que o sentimento intenso e complexo que se seguiu, apagou em mim aquele menino, dentro daquela cena. Muito tempo depois, lembrando do fato, é que sofri por ele.
Pobre menino, pobre aleijadinho, que, infelizmente, naquele momento, pelo menos, pobre daquele que não era eu.
continua no próximo domingo.